
Pelo blogue em 5 de Outubro de 2025, dia da Implantação da República e dia do professor.
Título: "Nascer nas colónias é nascer desenraizado", em "A ultima lição de José Gil" por Marta Pais Oliveira (2025)
Texto:
É muito interessante "A ultima lição de José Gil", de Marta Pais Oliveira (2025). Além de tudo, foi um reencontro com as minhas matrizes. O filósofo também nasceu em Moçambique, em Quelimane, frequentou, apesar de vinte anos antes, o mesmo Liceu Salazar (na então Lourenço Marques, onde nasci e cresci) e tem circunstâncias curiosas. Resumo algumas passagens num dia de feriado nacional da implantação da República e de dia do professor:
Lê-se na página 16: "o meu pai emigrou(...)nós resultámos dessa espécie de duplicação de um desenraizamento. Nascer nas colónias é nascer desenraizado, primeira coisa. E isto é um duplo desenraizamento." E na página 22: "não pude suportar aqueles gritos, abri a porta e os meus pais gritaram para não sair. Corro e vejo um negro deitado no chão, amarrado pelos punhos, de braços e pernas abertas, a ser batido com uma palmatória nas mãos e nos pés por um administrador sádico. Isso pôs definitivamente uma parte de mim do lado da justiça. Quer dizer, não suportar a violência da injustiça. É um primeiro momento de tomada de consciência do regime colonial". E na página 33: "como aceitar isso sem pôr questões(...)as fraturas - mandar em criados velhos negros, ter o direito de mandar -, é uma coisa que a criança não pode admitir, a menos que seja levada a fazê-lo por uma espécie de interiorização da norma(...)e não se fala disso". E na página 36: "se eu pensar nessa matriz do que vivi em Moçambique: o sentimento da injustiça(...)uma inclinação imediata para estar do lado dos oprimidos. Para ter horror à arrogância e à estupidez dos que têm poder. Insuportável, para mim. Hoje, sempre. Nunca deixei de ser assim. E a importância da literatura, da escrita. Foi isso que retirei de Quelimane. Um sentimento da terrível impossibilidade de existir como colono a viver estas forças contraditórias."
No meu caso, só percebi verdadeiramente o desenraizamento ao viver na Europa depois da descolonização e da independência de Moçambique. A partir daí, senti-me ainda mais um cidadão do mundo, com uma rejeição absoluta da injustiça, que pauta a cidadania e a profissionalidade por esses valores. Acima de tudo, gosto de pessoas e nunca abdico das políticas de inclusão. Apesar de naturalmente gostar de territórios e das suas especificidades, o que gosto, e no sentido que mais importa, é de humanos; e não me surpreendem as críticas veementes às declamações políticas de paixão pelo "nosso" espaço, pelas "nossas" pessoas ou pelos do "nosso" partido (a história comprova a sua génese demagógica). De facto, não há humanos proprietários do bem comum. O espaço é universal, os humanos são finitos e rejeita-se absolutamente o ódio aos mais fracos e a prevalência do mal.
E a propósito de tudo isto, do feriado e do dia do professor, lembrei-me deste pequeno texto que escrevi para o blogue em 26.10.2012
"Tinha uns 12 anos e viajava com o meu pai numa estrada moçambicana fora dos centros urbanos. Estava um dia muito quente. Parámos numa "cantina" - áreas de serviço que eram, em regra, propriedade de comerciantes portugueses imbuídos do espírito colonial (os metrópoles) - e deparámos com uma dezena de homens negros, bem suados e em tronco nu, à volta de uma mesa com uma bazuca - cerveja de litro e meio - no centro. O filho do comerciante, com uma idade igual à minha, atirava-lhes pão e repetia: "hoje é dia de festa".
O meu pai esteve em silêncio e à saída não se conteve: "serão os primeiros". Lá me explicou o que é que queria dizer com o desabafo. Anos depois, a revolta "legitimou" a tragédia. As áreas de serviço arderam, e, em muitos casos, com os comerciantes lá dentro. Foi também assim noutros capítulos dessa revolução. A cor da pele era o primeiro critério implosivo para humilhações acumuladas durante séculos.
As sociedades actuais não se devem considerar livres da ontogénese da humilhação. O bodo aos pobres deixa marcas. Os pobres não têm vergonha (a condição não o permite, sequer) de se socorrem do que existe para afagarem a fome. É certo que o fazem, como também é de saber filogenético que um dia manifestarão em implosão social as sucessivas humilhações."

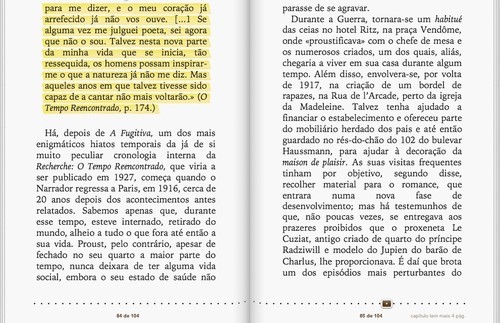
.jpeg?size=l)

.jpeg?size=l)

.png?size=l)








